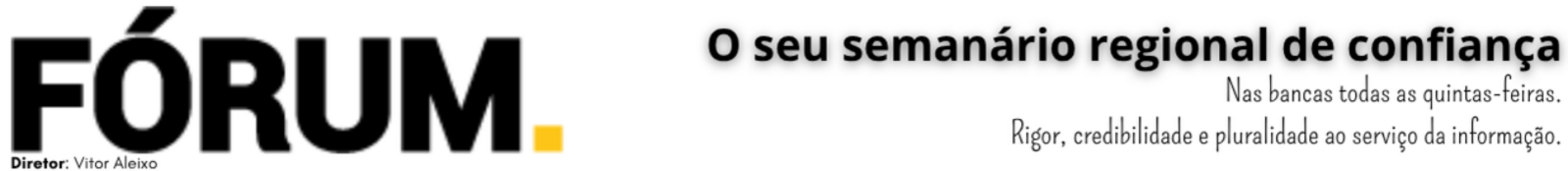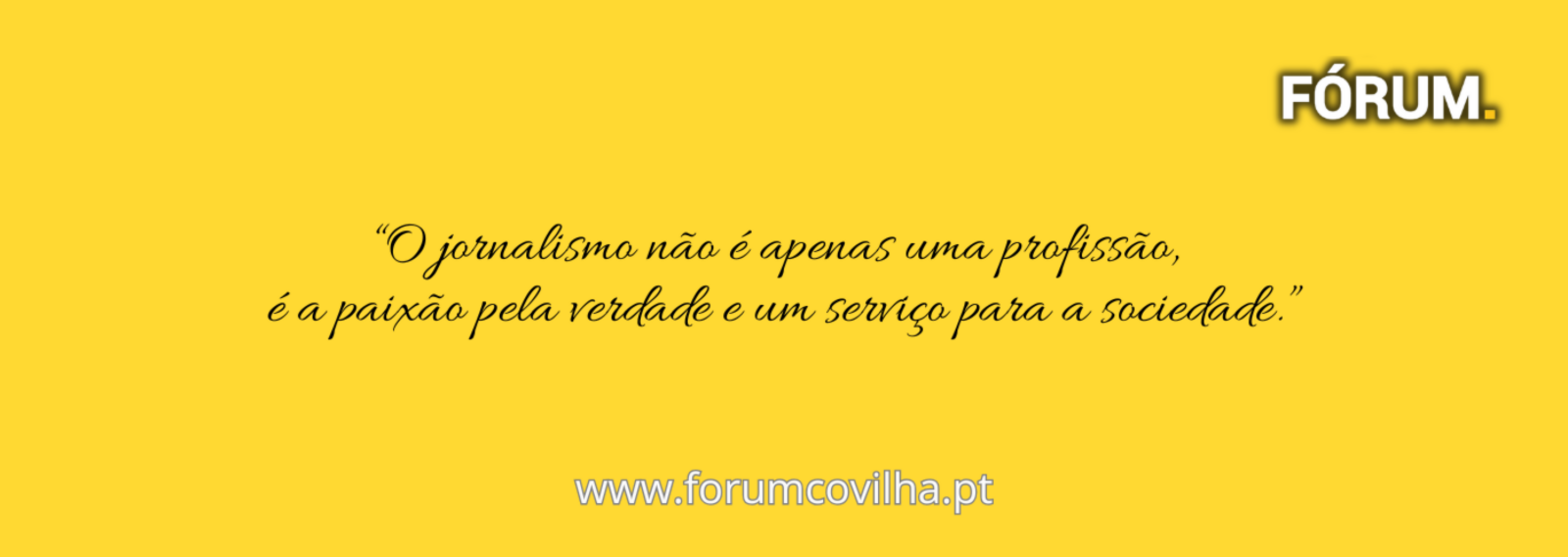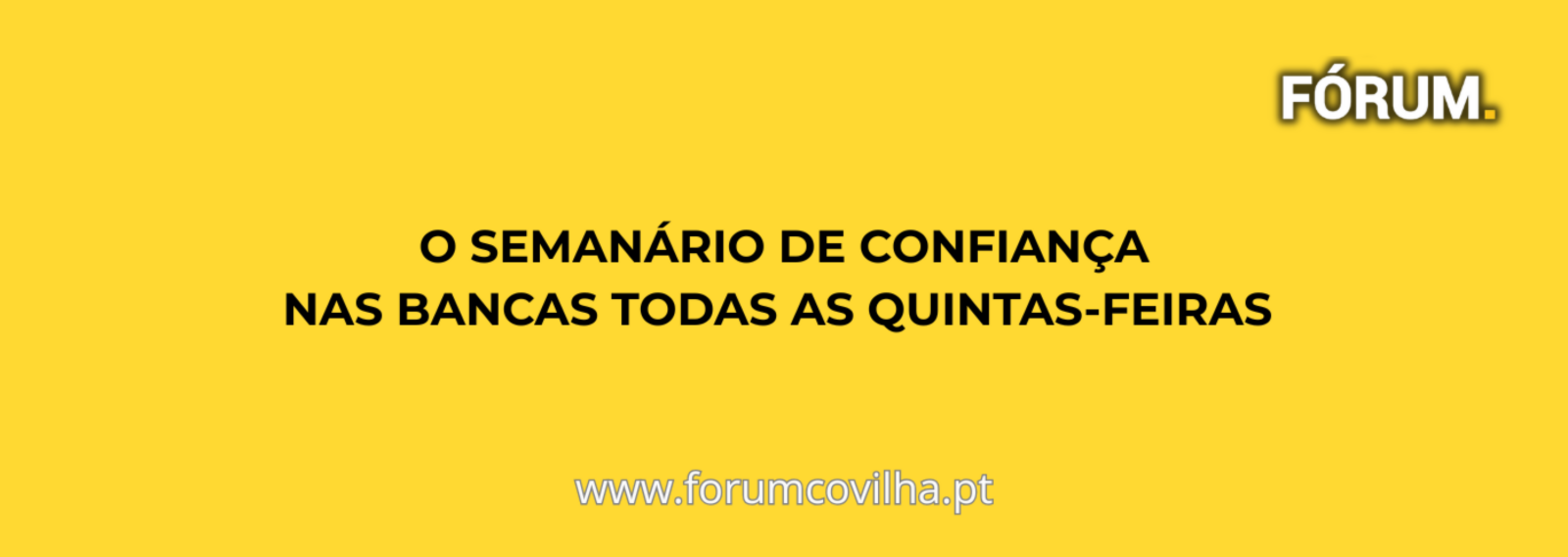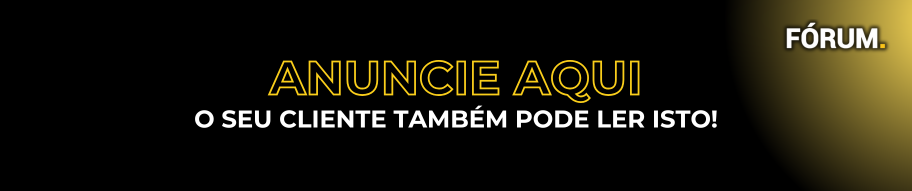Opinião: André Morais | Precipitação intensa pós incêndio, problema anunciado
Opinião
Precipitação intensa em solos queimados, o risco invisível que se transforma em desastre anunciado
Ainda antes de o verão terminar, já temos em Portugal, segundo o IPMA as primeiras chuvas. O país encontra-se, mais uma vez, perante uma encruzilhada de riscos, os incêndios que devastaram territórios fragilizaram o solo e, agora, cada gota de chuva que cai pode desencadear fenómenos em cascata que ameaçam pessoas, bens e ecossistemas. O que deveria ser apenas uma transição natural de estação converte-se num desafio acrescido para a proteção civil e para a gestão do território.
Um ciclo previsível: do fogo à água
Os incêndios não destroem apenas vegetação, alteram profundamente a estrutura dos solos e preparam o terreno para novos riscos. O calor intenso cria camadas repelentes à água, reduzindo drasticamente a infiltração. Mas temos mais problemas associados:
Tudo isto é conhecido, estudado e documentado em relatórios científicos, artigos académicos e experiências de campo. Não estamos perante fenómenos desconhecidos, mas sim perante riscos previsíveis que continuam a ser geridos de forma reativa.
O efeito cascata sobre comunidades e ecossistemas
O que começa na encosta rapidamente se propaga ao vale, às aldeias e até às cidades. A precipitação em solos queimados gera um efeito dominó que se traduz em múltiplas consequências:
Em locais como a Serra da Estrela ou a Lousã, este ciclo já foi repetidamente observado. O fogo abre feridas, a chuva, em vez de curá-las, aprofunda-as.
Fragilidades da resposta atual
Apesar do conhecimento acumulado, Portugal continua a atuar tardiamente.
-
Ausência de medidas imediatas, entre o incêndio e a primeira chuva, existe uma janela crítica para intervir, mas quase nunca se assiste à consolidação de taludes, instalação de barreiras ou aplicação de técnicas de bioengenharia.
O resultado é um vazio de preparação. Populações ficam apenas “avisadas”, mas não ficam capacitadas para agir.
O que poderia já estar a ser feito
Ainda que não seja possível transformar radicalmente a paisagem em poucas semanas, existem medidas práticas e técnicas que podem e devem ser implementadas de imediato:
Cada uma destas ações é tecnicamente viável, financeiramente acessível e operacionalmente exequível. O que falta não é conhecimento, mas vontade e planeamento.
A importância da literacia de risco
O problema não é apenas técnico. É também social. Uma comunidade informada e preparada pode reduzir significativamente os impactos destes fenómenos. Mas para isso é necessário que a comunicação vá além dos avisos generalistas:
O caminho para uma cultura de prevenção
Portugal precisa de transitar de um modelo reativo para um modelo proativo de proteção civil. Isso significa:
Os incêndios não são o fim do problema, mas apenas o início de uma nova fase de vulnerabilidade. A chuva que chega logo a seguir não é apenas o alívio que todos desejam, é também o gatilho de novos riscos. Portugal não pode continuar a esperar que os fenómenos se repitam para depois reagir. É tempo de antecipar, planear e agir. Cada precipitação intensa em solo queimado é previsível. Cada enxurrada que arrasta estradas, cada aluimento que atinge habitações, cada curso de água contaminado poderia ter sido mitigado com medidas simples. A diferença entre desastre e resiliência está, muitas vezes, na decisão de intervir a tempo. Se quisermos verdadeiramente proteger pessoas, bens e ecossistemas, precisamos de romper o ciclo de “esperar para reagir” e avançar para uma lógica de “prever para prevenir”. Só assim deixaremos de assistir, ano após ano, a desastres anunciados.